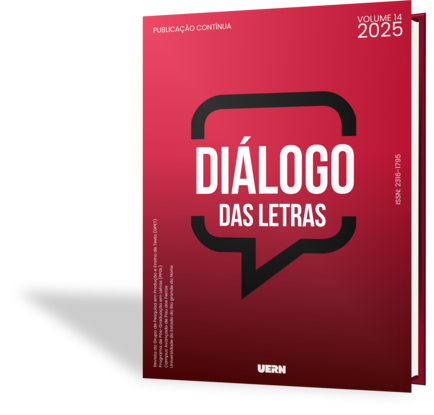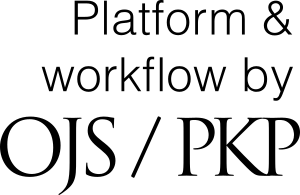O trabalho com os gêneros digitais na BNCC: reflexões acerca da verticalização e homogeneidade no ensino
DOI:
https://doi.org/10.22297/2316-17952025v14e02505Palavras-chave:
BNCC, Gêneros digitais, Homogeneidade no ensinoResumo
A partir da década de 1990, documentos de caráter oficial surgiram seguindo uma tendência neoliberal e sendo voltados à implantação de novas perspectivas para as práticas pedagógicas, as quais não necessariamente consideraram as realidades e possibilidades das nossas escolas. Nessa mesma perspectiva, foi homologada em 2018, em meio a um conturbado contexto político-ideológico, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se pauta em uma uniformização do ensino na educação básica. Nesse viés, uma das problematizações acerca do documento diz respeito à forma como a BNCC busca articular a esfera tecnológica ao ensino, mais especificamente com relação ao estudo de Língua Portuguesa. Seguindo esse mote, a partir de uma pesquisa qualitativa, o presente trabalho se propõe a refletir e problematizar a maneira como os gêneros digitais são contemplados na BNCC, focalizando o ensino fundamental – anos finais, bem como elucidar possíveis consequências, para o ensino de língua materna, que a abordagem desses gêneros implica no contexto escolar. Para tanto, partimos das concepções teóricas de Marcuschi (2003, 2004, 2008) acerca dos gêneros textuais e dos gêneros digitais. Quanto ao aporte que fundamenta nossas análises, destacamos as contribuições de Apple (2011), Fabiano (2016), Geraldi (2016), Guimarães (2022) e Orlandi (1987a; 1987b; 1987c; 2020). Por fim, criticamos a incorporação excessiva de gêneros digitais no documento, a presença da homogeneidade no ensino, e apontamos uma ênfase na produtividade e na escrita como produto e não como processo, em que o sujeito é levado a aprender modelos estruturais e reproduzi-los.
Downloads
Referências
APPLE, M. W. Ideologia e currículo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982 [1979].
APPLE, M. W. Para além da lógica do mercado: compreendendo e opondo-se ao neoliberalismo. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2005.
APPLE, M. W. A política do conhecimento oficial: faz sentido a ideia de um currículo comum nacional? In: Moreira, A. F.; SILVA, T. (org.). Currículo, Cultura e sociedade. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 71-106.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 8 dez. 2024.
CÁSSIO, F. Participação e participacionismo na construção da Base Nacional Comum Curricular. Nexo Jornal, São Paulo, 2 dez. 2017. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/participacao-e-participacionismo-na-construcao-da-base-nacional-comum-curricular. Acesso em: 5 jan. 2025.
FABIANO, S. A utilização do conceito de gênero na escrita acadêmica e em livros didáticos de língua portuguesa. Estudos Linguísticos, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 1623-1633, 2016. Disponível em: https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/1284. Acesso em: 8 jan. 2025.
FREITAS, L. C. de. Uma BNCC à procura do magistério. Avaliação educacional (Blog do Freitas), Campinas, 26 ago. 2018. Disponível em: https://avaliacaoeducacional.com/2018/08/26/uma-bncc-a-procura-do-magisterio/. Acesso em: 11 dez. 2024.
FONSECA, M. N. G. da; GERALDI, J. W. O circuito do livro na escola. In: GERALDI, J. W. (org.). O texto em sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 1997. p. 104-114.
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: GERALDI, J. W. (org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 1997. p. 39-46.
GERALDI, J. W. O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular. Retratos da escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 381-396, 2016. Disponível em: https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/587. Acesso em: 16 dez. 2024.
GUIMARÃES, G. B. Ensino da escrita: análise crítica da imposição de um arbitrário cultural tornado suposto consenso. 2022. 182f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Internet chega a 88,1% dos estudantes, mas 4,1 milhões da rede pública não tinham acesso em 2019. Agência de Notícias IBGE, 29 abr. 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30522-internet-chega-a-88-1-dos-estudantes-mas-4-1-milhoes-da-rede-publica-nao-tinham-acesso-em-2019. Acesso em: 17 jan. 2025
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 161,6 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet no país em 2022. Agência de Notícias IBGE, 22 dez. 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38307-161-6-milhoes-de-pessoas-com-10-anos-ou-mais-de-idade-utilizaram-a-internet-no-pais-em-2022. Acesso em: 17 jan. 2025.
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (org.). Gêneros textuais e ensino. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. p. 19-36.
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital. In: MARCUSCHI, L. A. (org.). Hipertexto e gêneros digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. p. 19-46.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
MEYER, A. I. da S. Hipertextos e Gêneros Digitais: Conceitos e características. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 15, n. 10, p. 87-108, 2020. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/generos-digitais. Acesso em: 5 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/generos-digitais
MINAYO, M. C. S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 9-29.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 7. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 2000.
ORLANDI, E. P. O discurso pedagógico: a circularidade. In: ORLANDI, E. P. (org.). Linguagem e Funcionamento: as formas do discurso. 2. ed. Campinas: Pontes, 1987a. p. 15-24.
ORLANDI, E. P. Para quem é o discurso pedagógico? In: ORLANDI, E. P. (org.). Linguagem e Funcionamento: as formas do discurso. 2. ed. Campinas: Pontes, 1987b. p. 25-38.
ORLANDI, E. P. Tipologia de discurso e regras conversacionais. In: ORLANDI, E. P. (org.). Linguagem e Funcionamento: as formas do discurso. 2. ed. Campinas: Pontes, 1987c. p. 149-176.
ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios & procedimentos. 9. ed. Campinas: Pontes, 2012.
ORLANDI, E. P. Educação e sociedade: o discurso pedagógico entre conhecimento e informação. Revista Latino-Americana de Estudos do Discurso, v. 16, n. 2, p. 68-80, 2020. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/raled/article/view/33239. Acesso em: 20 dez. 2024. DOI: https://doi.org/10.35956/v.16.n2.2016.p.68-80
PEREIRA, A. M. dos S.; CORTES, G. R. de O. O discurso da BNCC nas mídias digitais: entre o silenciamento de sentidos e a resistência. Humanidades & Inovação, v. 7, n. 24, p. 242-260, 2020. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/4382. Acesso em: 20 dez. 2024.
ROCHA, Á. L. S. da. A constituição da concepção do ensino de leitura da BNCC (ensino fundamental) - anos finais: uma análise linguístico-discursiva. 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - Departamento de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Álvaro Lopes Silva da Rocha, Melina Nascimento Gomes , Valnecy Oliveira Corrêa Santos , Sulemi Fabiano Campos

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
A Diálogo das Letras não se responsabiliza por conceitos e opiniões emitidos pelos autores, tampouco manifesta, necessariamente, concordância com posições assumidas nos textos publicados. Além disso, os dados e a exatidão das referências citadas no trabalho são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). Ao submeterem seus trabalhos, os autores concordam que os direitos autorais referentes a cada texto estão sendo cedidos para a revista Diálogo das Letras; ainda concordam que assumem as responsabilidades legais relativas às informações emitidas.